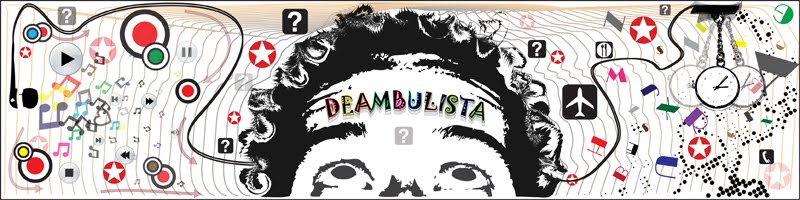Os tempos marcam posições, reflectem ideais e deixam marcas de água incrustadas numa sociedade que, ao longo dos séculos, tem sido capaz de mostrar aquilo que é correcto. E por mais persistente que seja a ideia, ou conservador o regime, ou ditatorial o homem-forte de um país, todas as fortalezas de poder caem. Caiu o Império Romano, caiu o III Reich, caiu Mussolini, caiu Salazar. Caiu mais recentemente Mubarak no Egipto, pontapeado por uma população em fúria que pararia um país inteiro no tempo enquanto o seu contestado líder não fosse exilado. Fica a clara ideia de que, por mais intransigente que seja a personalidade de uma só pessoa, a justiça vem ao de cima e outros interesses se sobrepõem a um capricho criado num cérebro ávido de poder.
A cedência, transposta para o nosso dia-a-dia, molda as pessoas que somos. Uma cedência não nos torna corações de manteiga. Nenhuma cedência não nos torna vilões até ser provado o contrário. A evolução do ser humano passa pela adaptação da fugaz realidade que criamos filosoficamente ao longo do nosso crescimento. Quem se recusar a aceitar novos ideais, será espezinhado na multidão que foge em pânico de um recinto de espectáculos em chamas. Pode ser capaz de se levantar, pode não o ser. Quem se levantar, estará mais aberto a aceitar a dureza da vida. Porquê? Pelo óbvio. Porque já sofreu na pele com uma bota da Timberland.
Todas estas situações, apesar de absurdas, são infinitamente recorrentes no mundo actual. Relembrando num passado recente, o macabro aumento de arrombamentos de portas trancadas após ter sido encontrada uma senhora falecida numa casa abandonada anos e anos depois. O desleixo apenas é curado com a tragédia. Para passar a ser uma anedota.
Eu cedo. Não sou coração de manteiga. Não sou vilão. Não sou espezinhado. Não arrombo portas. Mas também não as tranco.